A herança da Revolta da Chibata
A Revolta da Chibata, liderada por João Cândido em 1910, é daquelas passagens históricas que os livros didáticos mencionam com pressa, como quem empurra um prato mal temperado para o canto da mesa. Não é que o episódio não seja importante — ele é central para entender o racismo estrutural, a formação das Forças Armadas e o modo como o Brasil lida com dissenso. O problema é que, ao encarar esse capítulo, o país precisa olhar para a própria sombra. E sombra, convenhamos, não dá like em rede social, não vira propaganda eleitoral e muito menos rende homenagem em desfile militar.
No imaginário público, há quem ainda trate a Revolta da Chibata como um caso isolado, um surto momentâneo de marinheiros supostamente “ingratos”. Afinal, a República era jovem, os navios eram novos e a chibata — ah, a chibata — era vista como instrumento pedagógico. Mas basta deslocar o olhar do mito para a carne. Os marinheiros que tomaram o Encouraçado Minas Gerais estavam cansados de apanhar como se fossem escravos recém-libertos — o que, aliás, não deixa de ser trágica ironia: a abolição de 1888 praticamente não chegou aos porões da Marinha. Os corpos eram negros; a autoridade, branca; o castigo, colonial.
“É curioso notar como o Brasil gosta de celebrar a concórdia enquanto cultiva, com esmero, seus silêncios. A Revolta da Chibata é tratada como tópico incômodo, como aquela conversa em família que todos sabem que precisa ser tida, mas que alguém sempre corta com um “melhor mudar de assunto”.”
João Cândido, o “Almirante Negro”, não surge, portanto, como herói inventado pela retórica do século XX, mas como consequência natural de um sistema de opressão que insistia em sobreviver. Seu projeto não era instaurar um caos romântico. Era simples e brutal: acabar com o açoite. Mas a simplicidade dos pedidos às vezes é justamente o que escancara a crueldade do poder. É quase constrangedor, para não dizer obsceno, perceber que a República brasileira precisou de uma revolta naval armada para discutir se o Estado tinha ou não o direito de espancar seus próprios soldados.
E quando o acordo veio, veio com veneno. O Governo prometeu anistia, mas poucos meses depois prendeu, expurgou, torturou e matou. João Cândido foi sobrevivente de um massacre silencioso — testemunha de que o Estado brasileiro nunca perdoa quem o expõe ao espelho.
Entre o orgulho e o apagamento
A herança da Revolta da Chibata sobrevive até hoje, não apenas na memória dos círculos acadêmicos, mas também na forma como as instituições tratam seus subordinados. Basta observar como o discurso da hierarquia e da disciplina ainda serve como biombo para práticas abusivas, sejam elas explícitas — como castigos físicos no início do século XX — ou adaptadas às sensibilidades contemporâneas — humilhações, perseguições, retaliações administrativas, punições silenciosas. A chibata mudou de forma, de material e de justificativa, mas não desapareceu. Só ganhou gravata, assinatura e carimbo institucional.
Ao mesmo tempo, a figura de João Cândido segue disputada entre o reconhecimento simbólico e o esquecimento conveniente. Em 2008, quando seu nome foi finalmente inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, parecia que o país havia aprendido alguma coisa. Mas o gesto, enquanto não se traduz em política pública, reparação histórica ou ensino escolar consistente, corre o risco de virar apenas mais um monumento vazio — daqueles que a gente passa na rua sem olhar.
É curioso notar como o Brasil gosta de celebrar a concórdia enquanto cultiva, com esmero, seus silêncios. A Revolta da Chibata é tratada como tópico incômodo, como aquela conversa em família que todos sabem que precisa ser tida, mas que alguém sempre corta com um “melhor mudar de assunto”. Enquanto isso, a Marinha ainda luta para reconhecer plenamente esse legado — há homenagens tímidas, livros internos, cerimônias fechadas. Mas memória sem público é arquivo.
Se existe algo provocativo na herança da Revolta da Chibata, é o aviso que ela dá ao presente: não existe autoridade que se sustente eternamente pela coerção. Há um ponto em que a violência, quando sistemática e institucionalizada, se transforma em explosão política. O Brasil gosta de acreditar que revoltas desse tipo ficaram no passado, como curiosidades museológicas. Mas a história não se torna passado apenas porque a colocamos em um calendário. Ela se torna passado quando suas causas deixam de existir.
E aqui reside o ponto incômodo: nossas chibatas hoje não são de couro, mas de desigualdade salarial, racismo persistente, violência policial seletiva, desumanização cotidiana. A luta de João Cândido não era só contra um chicote — era contra um país que se recusa a enxergar humanidade onde não quer reconhecer cidadania.

A Revolta da Chibata não foi apenas um episódio. Foi uma pergunta. E a resposta, mais de um século depois, ainda está sendo escrita — muitas vezes, a ferro.
Os Golpes de Estado no Brasil
outubro 28, 2025A criação do Air Fryer em detalhes
outubro 14, 2025Como surgiram as primeiras ruas asfaltadas?
setembro 23, 2025O estranho início do Sufrágio Universal
setembro 9, 2025Orson Welles e a "invasão marciana"
agosto 26, 2025Père-Lachaise, o cemitério das estrelas
agosto 12, 2025A caótica origem da Estátua da Liberdade
julho 29, 2025A brilhante criação dos dicionários
julho 15, 2025A incrível criação da batata chips
julho 1, 2025O primeiro (e esquecido) conflito global
junho 17, 2025Criação e evolução são complementares?
junho 5, 2025Comuna de Paris: uma revolução fracassada
maio 29, 2025
Eder Fonseca é o publisher do Panorama Mercantil. Além de seu conteúdo original, o Panorama Mercantil oferece uma variedade de seções e recursos adicionais para enriquecer a experiência de seus leitores. Desde análises aprofundadas até cobertura de eventos e notícias agregadas de outros veículos em tempo real, o portal continua a fornecer uma visão abrangente e informada do mundo ao redor. Convidamos você a se juntar a nós nesta emocionante jornada informativa.

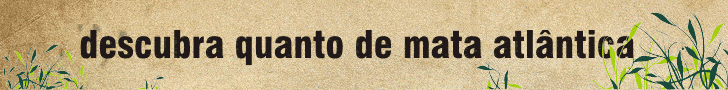
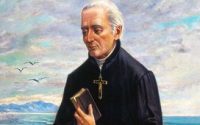



Facebook Comments